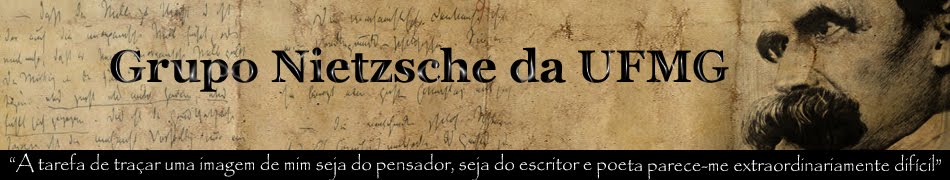Eu tomo a liberdade de reproduzir os dois primeiros parágrafos do artigo do André, que oferecem uma síntese das principais teses exploradas por ele e discutidas pelo grupo na tarde de sexta:
"Pode-se resumir a relação entre os pensamentos de Nietzsche e Darwin da seguinte maneira: Nietzsche compartilha com Darwin o projeto de uma naturalização da moral; afora esse ponto em comum, encontramos em Nietzsche uma recusa do darwinismo, que, como já se observou, ecoa a recepção de Darwin na Alemanha. Exemplo maior desse repúdio, no que diz respeito à moral, pode ser encontrado na Genealogia da moral, cujo alvo é a versão de Paul Rée das teses darwinistas. Entretanto, a força das objeções de Nietzsche a Darwin deve-se sobretudo à inclusão de Darwin no contexto de sua crítica geral à moral cristã, já que, no que diz respeito às suas críticas pontuais à teoria da evolução pela seleção natural, sua posição apresenta fragilidades, por revelar problemas de interpretação da teoria de Darwin, particularmente na compreensão de temas como a luta pela sobrevivência (struggle for existence), a teleologia e a sobrevivência dos mais aptos. Apresentaremos neste texto as críticas de Nietzsche, seus limites e acertos."
"A principal crítica de Nietzsche a Darwin baseia-se na compreensão de que o conceito central da teoria da evolução pela seleção natural seja o de luta pela sobrevivência. Entendida como principal causa para o surgimento das variações, ela promoveria, segundo a leitura de Nietzsche do darwinismo, a permanência e consequente descendência dos mais fortes, que passariam para a prole suas características. O ataque de Nietzsche a essa versão da seleção natural apresenta argumentos que chegam às seguintes conclusões: (2.1) A luta pela sobrevivência é uma exceção; (2.2) A vida caracteriza-se pela vontade de potência; (2.3) Não há teleologia no mundo orgânico; (2.4) A tese darwinista é produto da moral cristã." (André Itaparica. Darwin e Nietzsche: Natureza e Moralidade)
Nietzsche procurou submeter o darwinismo, pelo qual ele nutria sincera admiração enquanto um dos principais acontecimentos científicos de seu século, a duas sortes de subordinação. Ambos os movimentos podem ser ilustrados por duas passagens do Livro V de Gaia Ciência. No aforismo 349, intitulado "Ainda a procedência dos eruditos", Nietzsche afirma que ênfase darwiniana na "doutrina incompreensivelmente unilateral da 'luta pela existência'" é tributária do princípio spinozano da autoconservação; no aforismo 357, intitulado "Acerca do velho problema: 'O que é alemão?'", o alvo é a própria noção de evolução, que Nietzsche considera tributária do hegelianismo e como uma das provas do triunfo de Hegel sobre o século XIX. Ele encerra a sua sugestão com a notável formulação: "pois sem Hegel não haveria Darwin". Com isso Nietzsche não está sugerindo que Hegel forneceu inspiração direta para as ideias de Darwin, mas que o hegelianismo preparou os espíritos para a aceitação do darwinismo, ao modo de uma transição sem sobressaltos. Esta dupla subordinação do científico ao filosófico e a tendência a discutir o darwinismo ora em termos muito abstratos (questionando suas suposições mais elementares), ora em termos de suas implicações morais torna árdua a tarefa do intérprete de Nietzsche quando este se vê na necessidade de responder à questão aparentemente banal de em que medida o filósofo alemão compreendeu corretamente as posições de Darwin. Esta questão deveria ser decidida previamente, antes que pudessemos passar à avaliação da pertinência das críticas que Nietzsche dirige ao darwinismo. O prof. André Itaparica se alinha à tese que poderíamos chamar de hegemônica entre os intérpretes de Nietzsche. Esta tese afirma que Nietzsche não teve uma compreensão satisfatória das posições de Darwin, e que isso pode ser depreendido do tipo de crítica que ele formula contra estas posições, além de ser corroborada pelo fato de Nietzsche não ter tido quase nenhum contato direto com a obra de Darwin, se é que teve algum, e se informado sobre suas posições através, principalmente, da recepção alemã: F. A. Lange, E. von Hartmann, Rütimeyer, Haeckel, Nägeli, Roux, Rolph, Espinas, Schneider, Caspari, Liebmann foram algumas de suas fontes indiretas sobre o darwinismo. Este último fato não permite um argumento conclusivo a favor da tese, e isso foi alegado por um dos estudos recentes sobre o tema e que pretende rever este consenso. Trata-se do livro de Dirk Johnson: Nietzsche´s anti-Darwinism, que é em parte uma resposta a dois estudos publicados também recentemente em língua inglesa: o primeiro deles é o estudo filologicamente exaustivo de Gregory Moore: Nietzsche, Biology and Metaphor; e o segundo o livro de caráter mais especulativo de John Richardson: Nietzsche´s New Darwinism. Pelo nível da polêmica e a qualidade dos argumentos de ambas as partes, podemos concluir que a questão não será resolvida tão cedo. Nosso posicionamento dependerá em boa parte do modo como nós descrevemos ou entendemos o que está em jogo numa disputa intelectual em que um dos lados é um filósofo e não pretende se posicionar senão como filósofo e o outro lado é um movimento científico que em menos de duas décadas se converteu em tema de debate obrigatório em todos os ambientes intelectualmente ativos. Há, além desta assimetria, um outro fator importante que foi destacado pelo prof. André Itaparica durante nossas discussões: a dificuldade de descrever com precisão a posição de Darwin sobre um tópico específico de sua doutrina, já que ele era muito cauteloso em suas formulações.
Uma outra cautela talvez seja necessária para entendermos a atitude de Nietzsche em relação ao darwinismo: é prudente referir os seus proferimentos ao contexto em que eles são feitos. Nas obras de juventude, por exemplo, Nietzsche afirma que considera o darwinismo verdadeiro, mas fatal (Segunda Extemporânea, 9; KSA, 1, p. 319) e com consequências nefastas (cf. KSA, 7, p. 461). Esta conclusão só pode ser compreendida à luz de seu compromisso de juventude com o idealismo prático. É em nome deste compromisso que ele ataca, por exemplo, um autor como David Strauss, que pretende conciliar o darwinismo com os valores humanistas do classicismo de Weimar e com as aspirações burguesas e liberais da segunda metade do século XIX. Esta disposição para o compromisso irrita bastante o jovem Nietzsche e ele insiste que nada duradouro em termos de cultura pode ser edificado sobre uma base tão heterogênea. A ilusão de que isso é possível advém de uma compreensão superficial das necessidades da cultura por um lado, e de uma cegueira em relação às reais implicações do darwinismo, que inviabilizam o que para o jovem Nietzsche ainda se apresenta como imprescindível: um tipo de justificativa metafísica para a existência. Independente das mudanças na compreensão de Nietzsche do darwinismo (o que devemos supor que ocorreu tendo em vista o volume de leituras que ele realizou sobre o tema ao longo dos anos subsequentes), uma coisa é certa: ele inverte a avaliação das consequências práticas do darwinismo nas obras do último período. O darwinismo não é mais visto como uma ameaça à cultura em função da radicalidade com que ele nos obriga a rever a nossa auto-imagem; ele é criticado justamente por não romper suficientemente com os princípios teóricos e práticos que definem esta auto-imagem.
Em relação aos debates pontuais envolvendo o tema Nietzsche e o darwinismo, o mais árduo e interessante diz respeito à legimitidade ou não de se admitir juízos de conformidade a fins (ou juízos teleológicos) como parte de nossas teorias acerca dos seres vivos. Este debate exige uma reconstrução que tem seu ponto de partida na Terceira Crítica de Kant e, no caso que nos interessa, é bom lembrar que este foi o tema sobre o qual Nietzsche, aos 24 anos, pensou escrever uma tese de doutoramento. Ele tomou notas de diversos autores e chegou a algumas formulações próprias sobre o tema. Além de revelar uma notável disposição para dissolver o conceito de espécie e mesmo de indivíduo em um nominalismo sem precedentes em termos de radicalidade, Nietzsche sugere que a distinção entre juízos determinantes e juízos reflexivos, ou entre juízos que estabelecem nexo causal entre eventos e subsumem o particular em uma lei geral e juízos que expressam conformidade a fins são ambos igualmente construídos com base em categorias ficcionais, o que faria desta oposição menos uma oposição epistemicamente fundada do que um resíduo dogmático do kantismo. Em face deste radicalismo de juventude, há que se perguntar por que o Nietzsche maduro volta a insistir na acusação de que o darwinismo se mantém refém de uma perspectiva teleológica na explicação dos fenômenos biológicos. De resto, permanece uma questão em aberto se a biologia pode de fato prescindir de juízos teleológicos em suas explicações. Se seguirmos os desdobramentos da biologia pós-kantiana, o que descobrimos é que há dois modelos complementares e em alguma medida concorrentes de teleologia: a chamada teleologia interna, que responde pelo funcionamento do organismo e sua relação com suas partes constituintes (elemento destacado por Kant) e a teleologia externa (que responde pelo fenômeno da adaptação do organismo ao seu meio ambiente (e que anteriormente a Darwin era o locus privilegiado do aproveitamento teológico do fenômeno da vida). Parte da revolução darwiniana consistiu em oferecer uma explicação para os fenômenos da adaptação que a resgatava da apropriação teológica, na medida em que prescindia do argumento do design inteligente. Mas ao fazer este movimento, Darwin deslocou a ênfase da explicação biológica para os chamados fatores externos; se há espaço ainda para a teleologia interna, ela estará subordinada às estratégias adaptativas (sobre este debate eu recomendo o artigo do prof. Gustavo Caponi, da UFSC, que pode ser lido na íntegra aqui, com a cortesia da Scientiae Studia). A questão que nós nos colocamos, e com a qual eu encerro esta resenha de nossa discussão na sexta é a seguinte: Nietzsche, ao insistir na crítica de que o darwinismo confere um peso indevido aos fatores externos em detrimento dos fatores endôgenos, revelando com isso sua ascendência propriamente inglesa, não teria permanecido ele mesmo aprisionado em uma dicotomia entre o externo e o interno que sua doutrina mais abrangente da vontade de poder não mais autorizava?